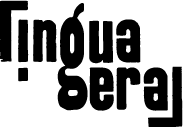Fernando Pessoa (diálogo imaginário) – por Daniel Piza
20.08.2012 - Livro

Fernando Pessoa
(diálogo imaginário)
Por Daniel Piza
Lisboa, bairro do Chiado, um dia chuvoso de outono, final dos anos 20. Fernando Pessoa, Alberto Caeiro, Álvaro de Campos e Ricardo Reis se sentam ao redor de uma mesa de café A Brasileira. Pessoa está de capote e bengala, um tanto introspectivo, talvez preocupado com algumas preocupações de algum mapa astral; Caeiro veste roupas de camponês, com respingos de barro nas calças; Campos mostra o relógio Cartier que acaba de trazer de Paris; Reis carrega um dicionário de latim e pede vinho e água para todos. Pessoa, o mais velho dos quatro, dá início à conversa contando que começou a escrever um livro de poemas que planeja chamar de Mensagem e fazer conter todas as características da alma portuguesa em seu caráter universal. O trio se espanta. Até agora nenhum deles havia publicado livro; todos os poemas eram produzidos para revistas e jornais. Por que então a novidade?
– Estou farto de improfícuas agonias – responde Pessoa. – Pus a alma no nexo de perdê-la, e o meu princípio floresceu em Fim.
– Mas tu mesmo – pergunta Campos – não disseste que é tudo ilusão, sonhar é sabê-lo?
– E não pediste em canção ao Senhor – lembra Caeiro, aparentemente não recuperado da noite de ópio anterior – que ele nos desse ao menos a força de não mostrar a dor a ninguém?
– E quem disse que mostro? – reagiu Pessoa. – Não uso o coração, por isso escrevo livre do meu enleio. Sentir? Sinta quem lê!
– A tua lenha é só peso que levas – intervém Reis – para onde não tens fogo que te aqueça.
– Como assim? – perguntam os outros, confusos.
– Pouco usamos do pouco que mal temos. A obra cansa, o ouro não é nosso – diz Reis.
– Mas, meu caro – replica Caeiro, com um semblante ao mesmo tempo alegre e triste –, o único sentido íntimo das coisas é elas não terem sentido nenhum. Se as coisas fossem diferentes, seriam diferentes: eis tudo.
– Logo – diz Reis –, põe quanto és no mínimo que fazes.
– Então quero publicar – remata Pessoa. – Penso profundamente, por isso tenho saudades.
– Mas por que fazer das saudades e do pensamentos um livro? – insiste Reis.
– Porque todo o começo é involuntário. Deus é o agente.
– Mas apenas mortos somos só nossos, entende? O que acho é que a lembrança esquece.
– Eu acho que a alma se sente e faz – argumenta Pessoa – conhece só porque lembra o que esqueceu. E, se é assim, vivemos porque houvesse memória em nós do instinto da raça. O mais é carne.
– Que angústia te enlaça? – perguntam os outros, juntos.
– Meu ser tornou-se-me estranho, e eu sonho sem ver os sonhos que tenho. A angústia é a vela que passa na noite que fica. Somos todos cadáveres adiados que procriam.
– Eu também – acrescenta Campos – sou um convalescente do Momento. Moro no rés-do-chão do pensamento e ver passar a Vida faz-me tédio. Sou um espalhamento de cacos sobre um capacho por sacudir.
– Então porque tu escreves? – contesta Reis.
– Para me unir ao exterior pela estética. Sou definidamente pelo indefinido – diz Campos, reticente – e em cada fragmento fatídico vejo só um bocado de mim. Mas ao menos fica a amargura do que nunca serei.
– À arte o mundo cria – assente Reis, dando baforadas no cachimbo. – Assim na placa o externo instante grava seu ser, durando nela.
– Meu misticismo é não querer saber – retruca Caeiro. Não sei o que é natureza: canto-a. Se eu morrer novo, sem poder publicar livro nenhum, peço que não se ralem por minha causa. Se assim aconteceu, assim está certo.
– E o nome inútil que teu corpo usou, vivo, na terra – diz Reis, apontando para Caeiro. –, como uma alma, não lembra.
– Mas isso exige um estudo profundo, uma aprendizagem de desaprender – ressalta Caeiro. Os outros não conseguem definir se ele está sereno ou agoniado. – Todo o mal do mundo vem de nos importarmos uns com os outros, quer para fazer bem, quer para fazer mal. A nossa alma e o céu e a terra bastam-nos. Querer mais é perder isso, e ser infeliz. Valeu a pena?
– Tudo vale a pena – responde rapidamente Pessoa – se a alma não é pequena. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu.
– Eu nunca fiz mais que fumar a vida – observa Campos. – Produtos românticos, nós todos… Mas, como um Deus, não arrumei nem a verdade nem a vida.
– Mas por que tanta tristeza? – pergunta Reis.
– Não sei. Pela manhã eu estava um pouco triste. E o dia deu em chuvoso. – Campos olha para fora e vê a chuva caindo. Deem-me o céu azul e o sol visível. Névoa, chuva, escuros, isso eu tenho em mim.
– Tu és louco – critica Pessoa, sob o olhar atónito dos companheiros. – Louco, sim, louco, porque quis grandeza qual a Sorte não dá. Mas sem a loucura que é o homem mais que a besta sadia?
Caeiro olha para o copo d’água à sua frente.
¬– Vês? Formam-se bolhas na água que nascem e de desmancham.
– Sentido nenhum? – pergunta Pessoa. – É do português querer, poder só isto: o inteiro mar, ou a orla vã desfeita. O todo, ou o seu nada.
– Mas e se ele não quiser? – questiona Campos.
– Quem quer é Deus. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Minha alma é um arco tendo ao fundo o mar… O tédio? A mágoa? A vida? Deixa-se… Eu cumpro informes instruções de além, e as bruscas frases que aos meus lábios vêm a um outro e anómalo sentido. Veja a cor do outono: é um funeral de apelos para a minha dissonância…
– Mas isso não é um fingimento – interfere Reis. – Se não houver em mim poder que vença o futuro, já me deem os deuses o poder de sabê-lo.
– O poeta é um fingidor – diz Pessoa, irónico. – Finge tão completamente que chega a sentir que é a dor a dor que deveras sente.
Caeiro está visivelmente cansado dessa conversa toda. Com um gesto de muxoxo, diz: – Há metafísica bastante em não pensar em nada. O que penso eu do mundo? Sei lá o que penso do mundo! Se eu adoecesse, pensaria nisso. E não estou nem alegre nem triste. Esse é o destino dos versos. Escrevi-os e penso mostrá-los porque não posso fazer o contrário. Passo e fico, como o Universo. Tu não concordas?
– Concordo – diz Pessoa, sem passar muita convicção. – Afinal, de quem é o olhar que espreita por meus olhos? Quando penso que vejo, quem continua vendo enquanto eu estou pensando? Às vezes, na penumbra do meu quarto, toma outro sentido em mim o Universo: é uma nódoa esbatida de eu ser consciente sobre a minha ideia das coisas. – Dá um suspiro. – A fé já não tem forma na matéria e na cor da Vida.
– É, sentir a vida convalesce e estiola – diz Campos. – Acordamos e o mundo é opaco, levantamo-nos e ele é alheio. Saímos de casa e ele é a terra inteira, mais o sistema solar e a Via Láctea e o Indefinido. A metafísica, amigos, é uma consequência de estar mal disposto.
– E se colho a rosa é porque a sorte manda – ajunta Reis, erguendo depois o copo na direção dos outros. – Gozemos escondidos. Com mão mortal elevo à mortal boca o passageiro vinho, baços os olhos.
– De eterno e belo há apenas o sonho. Porque estamos falando ainda? – completa Campos.
Os olhos de todos ficam tristes, até mesmo os de Caeiro.
– Os meus pensamentos são contentes – diz ele. – Só tenho pena se saber que eles são contentes. – Olha de novo para fora. A chuva parece ainda mais forte. – Pensar incomoda como andar à chuva quando o vento cresce e parece que chove mais. Ser poeta não é uma ambição minha. É a minha maneira de estar sozinho.
– A minha também – dizem juntos Campos e Reis. Os três olham para Pessoa, aguardando a sua reação. Depois de um tempo em silêncio: – Caiu chuva em passados que fui eu – diz ele enfim, com olhos de ressaca, mirando um horizonte que já não existe. – Narrei-me à sombra e não me achei sentido. Erro-me, e nada mais quero ou peço… Triste de quem é feliz. Vive porque a vida é dura. – E agora Pessoa fixa seus olhos nos amigos. – Sim, vocês estão certos. Ser descontente é ser homem. Tudo é incerto e derradeiro. Tudo é disperso, nada é inteiro.
Pessoa bebe o último gole de vinho. Olha para o romântico e entediado Álvaro de Campos, para o hedonista e cético Ricardo Reis, para o bucólico e realista Alberto Caeiro. Pensa em lhes apontar contradições, mas vê que elas são parcialmente suas. Pensei em lhes dizer: “Eu criei vocês”, mas sente também uma criatura deles. Deixa então o copo sobre a mesa e se despede: – Adeus.
– Adeus – respondem os outros em uníssono, enquanto partem cada um para um lado.
A sua também se fora.