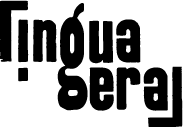Águas Paradas – Conto Inédito de João Tordo
02.08.2012 - Livro

Águas Paradas
23 de Diciembre. Hoy no pasó nada. Y si pasó algo es mejor callarlo, pues no lo entendí.
Roberto Bolaño
A primeira vez que vi Roque dos Santos foi num espelho. Eu estava sentado a uma mesa da Osteria Cà d’Oro com a minha mulher. Ele estava sozinho, a observar um prato de comida, sem lhe tocar. A minha mulher não reparou. Tive o impulso súbito de me levantar e de ir cumprimentá-lo. Não era meu hábito falar com desconhecidos mas, naquele momento, pareceu-me a única coisa a fazer. Levantei-me, aproximei-me da mesa e apresentei-me. Sou fulano tal e tal, disse-lhe; gosto dos seus filmes. O homem, que estava concentrado num prato de esparguete com anchovas, ergueu o olhar na minha direcção e, com a lentidão própria de quem não reconhece o seu interlocutor, arqueou as sobrancelhas e, por trás de um par de óculos ligeiramente tortos, assumiu uma expressão de assombro. Tinha um aspecto patibular, pensei; quase grosseiro. Perguntou-me quem eu era, e voltei a repetir o meu nome. Gosto dos seus filmes, insisti, embora não fosse inteiramente verdade. Roque ergueu a mão direita, que tinha estado pousada paralela à faca e à colher nas quais não havia tocado, e estendeu-ma sem dizer uma palavra. Tinha o rosto triste de um fauno. O prato cheirava intensamente a anchovas. Regressei à mesa, pedi desculpa à minha mulher e terminámos a refeição. Ela não me perguntou o que tinha ido fazer, e eu também não quis explicar. Discutimos à saída do restaurante, na Calle Pistor. Discutimos a caminho do hotel enquanto Veneza adormecia em nosso redor. À noite, Veneza é como o quarto de uma criança: há um silêncio aguado, escutam-se passos distantes, vozes emudecidas; vêem-se rostos aqui e ali, de fugida; há um palhaço que nos sorri a um canto antes de tentar matar-nos.
Eu e a minha mulher costumávamos discutir. Embora nem sequer seja essa a expressão certa: a verdade é que nos recriminávamos em voz baixa, sentindo com cada palavra de censura o prenúncio do fim. Ela nunca gostou da maneira como eu fumava os cigarros, apagando-os a meio sem nunca os deixar chegar ao fim. Eu não gostava da maneira como ela caminhava pela casa em saltos altos, fazendo bater os tacões contra o chão de madeira. Ela não gostava das pilhas de livros que eu deixava junto da cama e que constantemente se desequilibravam. Eu não gostava do som do secador de cabelo às sete da manhã. Ela detestava o meu silêncio ocasional e a minha incapacidade de explicar esse silêncio. Eu odiava o seu perfume. Quando a conheci, não usava perfume. Tinha um aroma natural na pele que, estranhamente, eu identificava com o aroma do seu sexo, placidamente perfumado. Era um aroma que me fazia querer amá-la muito mais do que aquilo que seria possível ou permitido amar, com o coração inteiro, ou pelo menos com aquela parte do coração que ama (presumo que seja a do lado esquerdo, mas não tenho a certeza). Devo dizer que nos amámos ou julgámos amar-nos mas que, infelizmente, tudo não passava de palavras que se desfazem, destrambelhadas, quando pela primeira vez descemos ao interior dos lençóis, em direcção à humidade do sexo, e nos acontece a experiência inesquecível da repulsa. Era o que eu sentia pela minha mulher: repulsa. Repulsa era também o que ela sentia por mim.
Tínhamos combinado uma viagem. Havia uma corrente subentendida de desespero e, levados ao engano, julgámos s¬er possível salvar o que não tinha salvamento possível. Assim, nessa noite outonal de maresias estagnadas, num pequeno quarto do hotel Íris – mas existirão quartos grandes em Veneza? – na Calle de Cristo, bairro de Sao Paolo, deitei-me no sofá da sala a ver televisão, sem som, enquanto ela fechava a porta do quarto. O hotel era um icebergue à deriva. Pensei no passado, pensei nos anos perdidos; pensei nas coisas todas em que havia falsamente acreditado ou que fora levado a acreditar pela falsidade e recordei os meus verdadeiros sentimentos. Recordei o dia do nosso casamento, por exemplo, e como eu despertara nessa manhã: com um elefante na barriga. Como pensei em embebedar-me, do princípio até ao fim, para esquecer, para esquecer, para esquecer; como não o fiz. Pensei, com um sorriso de grande tristeza, como teria tido graça vomitar no bolo da noiva ou no cabelo esverdeado das tias dela. Ocorria-me então que me apetecera embebedar-me sempre que a minha mulher mais precisava que eu estivesse do seu lado: na primeira vez que convidou os pais para jantar em nossa casa; na segunda vez que convidou os pais para jantar em nossa casa (e de todas as outras vezes que se seguiram); no momento em que falámos sobre ter filhos; no momento em que decidimos nunca os ter; no momento em que ela ficou doente, no momento em que ela recuperou, no momento em que mudámos de apartamento, no momento em que celebrámos um ano de casados, dois anos de casados, três e quatro; no momento em que descobri que ela tinha outro homem, no momento em que lhe perdoei o desavisado romance, no momento em que me tornei a deitar na nossa cama.
Ali deitado, com um pombo no beiral da janela que enfrentava uma rua tão estreita como uma veia, ocorreu-me que sempre fizera o contrário daquilo que quisera fazer. Que sempre fora um objecto de empurrar. Um objecto de empurrar, pensei, e quase me deu vontade de sorrir se não fosse a noite, e a vontade de chorar. Mas ocorreu-me também que eu não chorava mesmo que tivesse vontade: havia muitos anos que não me lembrava do que era uma lágrima, embora recordasse o sabor a sal, o rosto túmido da infância. Portanto não me ri, mas também não chorei. Olhei para a televisão durante muito tempo, embora não fosse a televisão que visse mas a recordação de imagens de um filme de Roque dos Santos a que assistira muitos anos atrás. Sem me lembrar do título, adormeci.
No dia seguinte, quando despertei, a minha mulher já tinha saído. Caminhei por Veneza sem rumo ou sentido. Desci até à praça de São Marcos, aquela a que Bonaparte chamara de mais belo salão da Europa e que não passava de uma praça cheia de pombos esfomeados como vagabundos e de turistas esfomeados como vagabundos. Caminhando sempre em linha recta, atravessei-a na diagonal desviando-me e ocasionalmente atropelando as pessoas que se reuniam em grupos muito compactos de gente a olhar para a basílica dourada e o céu. O céu era o mesmo ali do que noutro lugar qualquer, pensei, enquanto, na minha barriga, o elefante continuava a nadar. Era um céu de grande violência, um céu que reflectia os canais baços de Veneza, que tinham a cor de uma doença antiga. Um céu que, a qualquer momento, podia desfazer-se num eterno temporal que haveria de nos levar a todos para a cova.
Foi ali que o tornei a ver. Dei meia-volta no final da praça e, tornando a enfrentar os turistas e os pombos, entrei pela Calle Valaresso para fugir daquela turba. Deparei-me com uma rua estranhamente vazia. Reconheci-o logo, pois usava a mesma roupa da noite anterior. Era mais baixo do que julgara. Entrou numa porta e segui-o. O estabelecimento chamava-se Harry’s Bar. Atrás do balcão estava um homem muito arcaico, de casaco, camisa branca e um laço preto, agitando um shaker; as mesas estavam todas ocupadas por turistas. Ele sentara-se a uma mesa larga, encostada à parede. Na parede, uma placa em metal dourado:
Tavolo Riservato al senato dell’Harry’s Bar
Não me reconheceu. Perguntei-lhe se me podia sentar. Roque dos Santos olhou-me com os seus olhos de míope, coçou o cabelo curto (usava-o assim nesses tempos), endireitou os óculos, olhou para o bar e disse:
Se me pagares um copo.
Sentei-me. Ele pediu três bellinis. Eram uma mistura doce de champanhe e fruta, cor de laranja, que se bebia de um trago. Roque bebeu dois de seguida e depois pediu uma cerveja. Começava a duvidar que me visse ou reconhecesse a minha presença quando perguntou:
Gostas de bellinis?
É bom, respondi.
Pois é.
Ontem pensei no nosso encontro, disse-lhe. Depois reformulei: Quero dizer, ontem pensei num filme teu, mas não me recordo do nome.
O que é que recordas, então?
Recordo-me, por exemplo de que era a preto e branco.
Chama-se Cidade Líquida.
Roque bebeu da cerveja e falou sobre o filme, fixando a placa dourada que reservava aquela mesa ao senado do Harry’s Bar (que eu não sabia o que era). Os actores, no filme, eram José Duchamp e Teresa Worthless (talvez fossem pseudónimos). Os dois já tinham morrido, o primeiro um ano após a rodagem do filme (de alcoolismo), e a segunda dez anos mais tarde, também de alcoolismo. Do que me lembrava, o filme falava de dois jovens amantes numa cidade desconhecida que, a pouco e pouco, se ia afundando à medida que o amor deles ia crescendo. O que eu recordava era sobretudo a cena final: abraçados em torno do campanário de uma igreja – pois os pontos mais altos dos edifícios era tudo o que restava num cenário quase inteiramente marítimo, no qual carros vagueavam ao sabor da maré e cadáveres de gente e de animais flutuavam à deriva – os amantes beijavam-se uma última vez e depois eram engolidos pela maresia. Tinha visto o filme há muito tempo, talvez dez anos. Pus a hipótese de ter sido o primeiro filme que vi com a minha mulher. Sim: no final, ela tirara um lenço da carteira e secara as lágrimas que teimavam em cair-lhe dos olhos. Como é possível não estares comovido, perguntou-me? Eu não disse nada, embora estivesse profundamente comovido.
Filmámos aqui, disse Roque. Em Veneza. Na altura, a Teresa e eu éramos amantes, mas o Duchamp estava apaixonado por ela. Apaixonado com violência. E eu entendia-o perfeitamente. Ele era-lhe completamente indiferente, e um gajo sabe o mal que isso faz às pessoas. A indiferença.
Terminou a cerveja, levantou o braço e o empregado do bar trouxe-lhe outra.
Portanto, ele era-lhe indiferente, o Duchamp estava apaixonado por ela, a Teresa estava apaixonada por mim, eu estava apaixonado por um homem. Também já tive essa fase, um tipo passa por isso às vezes, e a única coisa que eu queria era que eles se odiassem o mais que podiam por isso comecei a foder a Teresa até eu e o Duchamp andarmos à porrada na ponte de Rialto. Quase me atirou da ponte, o filho da puta. Era baixinho, mas era forte como um camião. E já lá vão mais de dez anos e não há momento em que não passe por aquela ponte e em que não me lembre da fúria nos olhos dele quando me esmurrou até me partir um dente da frente.
Baixou o lábio de cima com um dedo sujo de nicotina e mostrou um implante mal feito, onde se notava o claro traço da cisão.
Mas não caíste à água, disse eu.
Hei-de cair um dia, respondeu ele.
Voltas aqui muitas vezes?
Todos os anos.
Que idade tens agora?
Que é que isso interessa?
Curiosidade.
Quarenta, acho eu. Ou talvez cinquenta. Mas o que é que isso te interessa?
Estava a tentar lembrar-me de que idade tinha quando vi o filme.
E que idade tinhas?
Trinta e três.
E agora?
Quarenta e três.
Então eu também tenho quarenta e três, de acordo?
De acordo.
Paguei a conta: cinquenta e oito euros. Quase regurgitei o meu bellini. Caminhámos pelas ruas em direcção à ponte de Rialto. Roque caminhava à minha frente concentrado em alguma coisa, sem se desviar um centímetro dos turistas que, em grupos compactos e ameaçadores, caminhavam na direcção oposta. Mais para norte, as ruas começaram a estreitar. Atravessámos duas pontes. Senti que estava dentro de um aquário, que o céu era de vidro e o oxigénio uma ilusão dos sentidos. Vi, à esquerda, a ponte de Rialto, onde os amantes paravam para se beijarem sobre a água estagnada de Veneza. Olhei para a água por um segundo: era macilenta, esverdeada. Perdi Roque de vista, depois tornei a encontrá-lo. Caminhava como caminham os generais, com um propósito maior do que a vida, como se a realidade fosse um túnel e ele o único passageiro. Numa rua larga olhei para a direita e reconheci o estreito beco que conduzia à estação de Ca d’Oro, onde eu e a minha mulher havíamos desembarcado no primeiro dia. Na praça cortámos à esquerda: na Salizada del Pistore uma placa preta indicava, em letras brancas, o Hotel Mignon.
Entrámos por uma rua estreitíssima. No hotel ninguém perguntou nada. Subimos uma escadaria e, num corredor escuro, Roque tirou uma chave do bolso das calças e abriu uma porta. Eu não sabia por que razão o seguia mas também não me perguntei: pareceu-me, na altura, a única coisa a fazer. O quarto era todo em madeira escura; sobre as mobílias existiam panos de veludo vermelho. As persianas da janela estavam corridas. O espaço dobrava em L. Roque abriu as portas de um armário e tirou do interior uma garrafa de whisky. Serviu dois copos. Sobre uma cama desarrumada estava deitada uma mulher. Tinha o cabelo castanho e usava apenas cuecas. Na nádega direita tinha a tatuagem de um pombo. Quis perguntar-lhe por ela, mas a mulher estava profundamente adormecida e Roque profundamente entediado. Não disse nada. Sentámo-nos em duas cadeiras, frente a frente. Roque acendeu um cigarro e depois afastou ligeiramente a cortina; a janela dava para um saguão entre dois prédios. Mas logo tornou a fechar a cortina e mergulhámos novamente na obscuridade.
Não gosto de nenhum dos meus filmes, disse ele.
Provei o whisky e respondi:
Gosto muito do Cidade Líquida. Confesso que não me recordo dos outros.
Disseste-me que gostavas dos meus filmes. Plural.
Quando?
A noite passada.
Talvez tenha sido força de expressão. Na verdade, não sei se cheguei a ver mais algum.
A mulher ressonava baixinho, o som de uma serra à distância, no cimo de uma montanha.
Ninguém se recorda, comentou Roque. Suspirou, como que resignado. Elogio do Condor. A Vida Paralela. O Homem da Linha Eléctrica. Este era um documentário.
Sobre quê?
Sobre um homem cujo trabalho é reparar os postes eléctricos ao longo da auto-estrada. Lucas em Outono. Este foi o último. Só tinha trinta e cinco minutos e, por isso, nunca passou no circuito comercial. Os distribuidores disseram que era impossível levar as pessoas a verem um filme com menos de uma hora de duração. Eu perguntei porquê, e eles responderam simplesmente que as coisas são como são.
O Cidade Líquida teve muito sucesso.
É estranho pensarmos nisto, não é? Que alguém tenha decidido, um dia, que um filme deve ter entre noventa e cento e vinte minutos e que esta é a capacidade do espectador médio de estar sentado numa sala sem procurar distracções.
Lembro-me de que ganhou vários prémios.
Do que é que estás a falar? Concentra-te.
Caí em silêncio. Provei o whisky e achei o sabor repugnante; perguntei-me se ele teria urinado na garrafa.
Fiquei com o Lucas em Outono só para mim. Aliás, minto. Existe uma cópia numa distribuidora que faliu e a outra está comigo. Às vezes projecto-o à noite, no meu apartamento. Vejo-o sozinho, ou com amigos. E cobro entrada. O preço normal de um bilhete de cinema. Que se lixe. Um gajo tem de ganhar a vida, não é?
A rapariga soltou um ronco profundo, agitou-se como se a tivessem ligado à corrente durante um segundo, depois voltou a afundar-se nos lençóis. Tinha a nádega direita, a do pombo, intumescida. Roque apanhou-me a olhá-la; desviei imediatamente a atenção.
Mas concordo contigo, avançou ele.
Em quê?
O Cidade Líquida é um bom filme. Não tem competência nenhuma, foi tudo feito por amadores. Algumas das cenas tiveram de ser cortadas porque o director de fotografia deixou queimar a película. O som é um desastre, ouvem-se mais os pássaros do que as vozes dos actores. É por isso que é um bom filme, porque é incompetente que se farta. O que descobri nestes últimos dez anos foi isto: que, a partir do momento em que as coisas em teu redor se tornam profissionais, deixas de ter prazer em fazê-las e isso espelha-se no resultado final.
Deu um arroto e uma passa longa do cigarro que, depois, atirou para o chão. Estendeu a perna e apagou-o com a sola do sapato. Reparei então que havia beatas espalhadas por todo o lado. Os filtros castanhos confundiam-se com a cor da carpete. Roque terminou o whisky, tornou a afastar a cortina, espreitou para a rua e voltou a fechá-la.
Queres outra bebida?
A minha mulher vai estar à minha espera.
O Duchamp nunca mais quis trabalhar comigo depois de ver o filme.
Provavelmente a cena de pancada na ponte não ajudou, comentei.
Roque fez um esgar muito estranho.
Não me parece. Ele não era do género de guardar ressentimentos.
Bateu com a unha do dedo indicador no dente da frente.
Seja como for também não teria tido tempo, porque um ano depois já estava morto.
Eu lembro-me disso.
A Teresa disse a mesma coisa depois de ver o filme. Que era uma merda. Eu dei-lhe um estalo na cara nessa noite, mesmo em frente à porta de casa dela. Disse-lhe: sua puta, podes dizer que não gostas do filme, mas de cada vez que disseres que é uma merda vou dar-te um estalo na cara. Nos anos que se seguiram pratiquei bastante a arte do estalo na cara. Queres ver?
Como?
Levantou-se e pregou-me um estalo na cara com imensa força. Fiquei tão surpreso que não me consegui mexer; ao mesmo tempo, dei-me conta de que o estalo não doera, que a palma da mão de Roque tinha, a grande velocidade, conseguido acariciar o meu rosto, mais do que agredi-lo. Ainda assim, fiquei rubro. A mulher despertou com o barulho do estalo, olhou para trás e, sem se preocupar em tapar-se, voltou a enterrar a cabeça na almofada.
Doeu-te?
Não.
Eu bem te disse.
Tenho de ir.
Há alguma pergunta que queiras fazer?
Disseste que não gostavas do Cidade Líquida. Mas defendes o filme.
Disse que não gostava. Mas é um bom filme.
Ah. Entendo.
Ao contrário dos outros que se seguiram, que agradam aos idiotas dos críticos mas que ninguém quer ver, e eu detesto-os porque são maus filmes. Mas o Cidade Líquida, não. É um bom filme e eu detesto-o à mesma.
Está bem.
Vai-te embora, disse Roque. Levantei-me, deixando o whisky por terminar. Vi-o ficar ali sentado, afundado numa modorra. Aquele quarto cheirava a cigarros, a corpos mal lavados e à melancolia das coisas perdidas. Desci para a rua e caminhei pela Salizada del Pistore. Encontrei uma esplanada de um bar chamado Sbarlefo e sentei-me. Tinha-lhe mentido: a minha mulher não me esperava. Na verdade, nada me esperava. Mas estar no quarto de Roque tinha-me infectado daquela melancolia. Agora o meu coração batia mais depressa, deixando a sua velocidade de lento cruzeiro e acelerando numa curva que trazia consigo um enjoo do presente e uma alusão a um passado remoto no qual eu tinha sido, se não feliz, pelo menos ligado, de maneira visceral, à vida. Seria essa ligação a única forma de felicidade? (pedi um copo de vinho tinto a um empregado apressado). Seria o enjoo que nos provoca a vida a única forma de nos sentirmos nela, a única maneira que nos sobra de termos indicação de nós? Bebi metade do copo de vinho de um gole e, observando os transeuntes que passavam, concluí que tinha morrido há muito tempo. Que, para me isentar daquela dor de estômago, daquele enjoo que é o sinal irrevogável da perda, escolhera morrer. Ali sentado, olhando uma rapariga que se passeava num vestido estival, cujo cabelo ondulava atrás de si numa cortina de silêncio, concluí que tinha saudades da vida (terminei o copo de vinho). Tinha saudades da vida apesar de ainda estar vivo; tinha saudades da vida embora nunca tivesse experimentado nenhuma outra condição. Pensei, com um sorriso de desdém, que é isso o que as pessoas mais reclamam quando falam da morte: que, quando morrerem, vão sentir saudades. E, contudo, como podem os mortos sentir, se essa é uma condição dos vivos? Se, na morte (ou na morte em vida) nada sentimos, é apenas por antecipação que temos saudades da vida, enquanto ainda podíamos sentir. E, assim, é como se já estivéssemos mortos à partida, como se soubéssemos que o nosso lugar devido não é este, que nos é hostil, mas um lugar em que se tem saudades de estar vivo e que esse lugar também não é a morte – não pode ser a morte, não pode ser – mas um deserto que se atravessa e que termina com um enjoo de melancolia.
Debrucei-me e vomitei no passeio. O empregado, esbaforido, veio perguntar-me se estava bêbedo. Disse-lhe que sim; era evidente. Um casal de turistas com máquinas fotográficas a tiracolo ficou a olhar-me com repúdio. Limpei a boca com a manga do casaco, paguei a conta e fui-me embora. Nessa noite disse à minha mulher que queria o divórcio. Pareceu-me ser a única coisa a fazer.